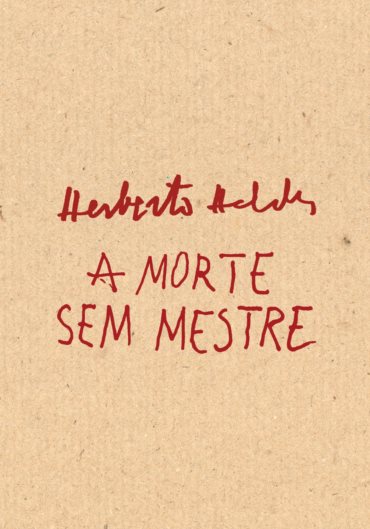de quando Michael largou a poesia e se tornou um gênio
Há quem maldiga o seu algoritmo por muito pouco. Não eu.
Eu tenho descoberto com ele coisas bem interessantes, como, por exemplo, que o maior jogador de basquete de todos os tempos também tentou a carreira de poeta. Ainda que tenha sido um poema só, e ao que tudo indica dedicado à sua mamãe, ele tinha tudo para se tornar também um gigante dos versos.
É isso mesmo! Quem me revelou isso foi um vídeo do Reels (aqueles vídeos aparentemente aleatórios que cronometram milimetricamente a atenção dos indivíduos para lhe dar e mais mais do mesmo, como se fossemos hamsters).
É por onde o algoritmo parece descobrir o ponto fraco do freguês, a sua droga favorita, a sua perversão secreta, a sua obsessão patológica e passa a lhe oferecer mais e mais daquilo para que ali ele fique o máximo de tempo possível, seja assistindo a vídeos de gatinhos fofos ou coisas que às demais pessoas não importa nem convém saber.
Os vídeos do Reels são, não mal comparando, a cracolândia das redes sociais.
Depois de um tempo variando a oferta de conteúdo, finalmente o algoritmo descobriu que, no meu passado, eu fui um jogador de basquete. Primeiro amador, depois ainda amador e finalmente ex-amador. Essa foi toda a minha carreira.
Mas descobriu o algoritmo que eu ainda hoje posso passar horas sem fim assistindo principalmente às jogadas dos meus diletos gênios da bola ao cesto.
Os gênios são muitos, em todos os tempos, mas divindade, como todos sabem, há uma apenas. Atende pela nome de Michael Jeffrey Jordan, o imortalizado número 23 do Chicago Bulls. Michael Jordan (MJ), o jogador poeta. Sim, talvez o autor de um poema só, escrito na High School, como saber? Mas que importa? Não se pode ter preconceito com detalhes secundários como esses. A poesia é um caminho aberto a todos que se atrevam a trilhá-lo.
Mas desde que eu vi aquilo, entendi subliminarmente que ele, além do basquete, sempre esteve envolvido numa, como eu quero demonstrar, poética.. Exagero? Provarei que não. Pelo menos me deixem blasfemar com liberdade..
Na verdade, nem é preciso que eu prove muito. Os vídeos de Michael estão aí e são auto explicativos. Basta que se perceba a sua atitude em relação ao objetivo do jogo e cada investida sua contra a cesta adversária para que se entenda a intensa catarse a que ele se sempre se entregou ao jogar.
No basquete, como todos que já o praticaram reconhecem, o objetivo da vitória final é secundário, detalhe decorrente de muitas outras coisas. O que importa é que a bola caia no cesto. Quantas tentativas num jogo profissional isso acontece para que o objetivo se cumpra? Centenas, milhares.. Mas cada uma das tentativas é um esforço total, isso em MJ é mais que evidente. E o incrível nele é que sempre o fez de inúmeras maneiras diferentes. Não é uma jogada especializada apenas, um lance de 3 pontos infalível, mas uma versatilidade aliada ao foco que o fez obter o que obteve: ser ainda hoje considerado o “goat”. O bode. O greatest of all times..
Na verdade, o que acontece no basquete são milhares de pequenos jogos dentro de um grande jogo. Há os arremessos de longa distância, média, infiltrações, enterradas.. Para cada uma dessas modalidade de encestamento, diversas possibilidades específicas: reversão, antecipação, explosão, etc etc etc.
Além disso, o jogo em quadra, os movimentos, a levitação, a percepção espacial e de oportunidades. Tudo isso praticado com uma necessidade de solução imediata, de pronto, irrefletida. MJ foi um mestre exímio em tudo isso. É como fosse um Musashi das quadras, um Bach, um Mozart, um Shakespeare, um Machado da bola em gomos.
Mas o que nele há de diferente dos outros jogadores?, indagaria um neófito no melhor de todos os esportes.. O Lebron James não é tão jogador quanto ele? Kobe Bryant não foi? Magic Johnson? Oscar Schmidt, o “mão santa”? A Hortênsia?
Esse é o tipo de heresia que não se pergunta jamais a um basqueteiro..
A questão, para o que interessa aqui, é que nele, MJ, há um senso de obtenção do efeito que é completo. Não há um acaso sequer. E mesmo no erro, o erro é menor, ele não é valorizado, perde o efeito, é como se não existisse em face da nova tentativa. Isso é o suprassumo da vontade criadora. E é aí que justamente reside o que chamo de “poética desportiva” deste hoje senhor sexagenário e multimilionário.
A bola tem de cair e ele vai empregar toda, completamente toda a sua energia para obter um, dois ou três pontos no épico que é cada jogo por inteiro. E isso a cada lance. É um desgaste de atenção descomunal, como sabe bem quem já tentou jogar basquete por mais de cinco minutos.
* * *
Apesar de que prefiro ver aqueles lances bem antigos em que Jordan simplesmente ultrapassa os adversários rumo a mais um dunk destruidor, tem um lance que é muito emblemático na sua carreira. Aconteceu num jogo contra o Los Angeles Lakers, na final do primeiro do seus títulos, quando suplantou outro gênio das quadras: Magic Johnson.
Numa infiltração em três passos (bandeja), nosso herói se depara com uma impossibilidade espacial, uma barreira imprevista, o que ocorre junto ao próprio esgotamento do seu movimento de três passos. Pois de algum reflexo cinético felino, ele simplesmente muda a trajetória no ar e faz com que a bola passe por um espaço humanamente impossível e que não se encontrava bloqueado pelos dois defensores. Mas a bola passa. Passa e cai. Dois pontos só e daí, diria uma pessoa abilolada pelo pragmatismo.. Uma obra-prima do esporte, diriam os fanáticos.
Você provavelmente já viu um cesto de lixo de um escritor que faz justiça ao nome, isso antes do computador.. É o mesmo do que se dá na quadra de basquete. Muitas bolas fora até a obtenção do que realmente tem valor.
Isso independente das suas escolhas formais e estéticas — embora elas possam até garantir algum efeito extra no lance (mas jamais antecipar seu efeito). Isso sempre depende muito de quem joga, dessa habilidade, mas também, complementarmente, de quem assiste. É preciso fazê-lo, simplesmente. Just do it, como diz o lema dos tênis..
Pois assim precisa ser um poema. A bola tem que cair.
Nessa minha livre analogia, o poeta tem que fazer tudo, absolutamente tudo, para que a maldita bola caia. Isso de atirar para cima e talvez ela caia, com o perdão da metáfora, não é a mesma coisa. Não tem valor algum. É sorte. Acaso. Valem dois pontos no placar, mas não têm graça alguma..
A ação poética, nessa perspectiva comparativo-desportiva, é o emprego dessa energia, sem perda de tempo, eficiência ou atenção. O treino não vale. A brincadeira também não. Magic Johnson, um brincalhão, diziam que era muito mais competitivo que Michael Jordan.. As pessoas enganam muito.
A ação se dá quando o sujeito entra em quadra e faz tudo que pode fazer, com o maior empenho possível, até que pareça aos olhos dos outros uma trivialidade (que ele, no entanto, sabe perfeitamente o quanto lhe custou obter).
É o que fazia Michael Jordan ao jogar.
* * *
O poema juvenil de Michael Jordan é imprestável. Felizmente ele foi jogar basquete e não continuou naquelas chorumelas..
* * *
A má notícia aqui é que o algoritmo também descobriu que eu tenho fascínio em vídeos de répteis. Valei-me Freud, mas eu simplesmente gosto de observar a existência desses seres primevos. Se querem me interpretar, bom proveito, eu não me importo..
Mas eu tenho pensado há tempos também numa aproximação poética sobre os répteis.. Que que tem de mais?
* * *
Estou pensando nisso enquanto assisto às finais da NBA..
Que jogadores canhestros e desgraciosos…
* * *
Que os dragões os devorem vivos..