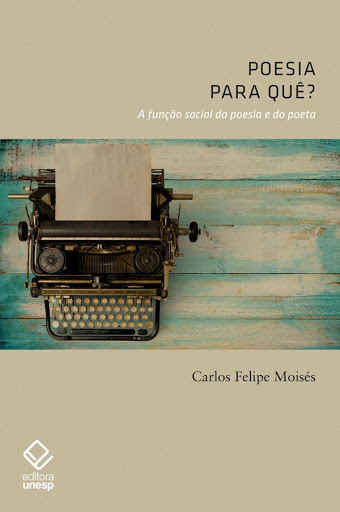Não sei que filme é esse que colocaram sob o fundo dessa versão de School, a única em estúdio que parece ter no YouTube para a música do Supertamp. É de algum filme, talvez um documentário sobre essa escola em Berlim, o Rheingau Gymnasium. É um casamento perfeito de imagens e música, ainda mais com a imagem tremeluzente das TVs de tubo e raios catódicos.
“School” é a música que mais me remete ao meu próprio ambiente escolar, lá no início dos anos 80. Acho que foi o primeiro disco do Supetramp que ouvi, o álbum ao vivo “Paris”, gravado em 1979, pouco antes da dissolução. O Supertramp foi uma banda já meio derradeira da parcela progressiva do rock, mas colheu frutos ainda do estilo do qual o Pink Floyd e o Yes, principalmente, foram os principais expoentes. Fizeram belos discos, muito competentes tanto no que diz respeito ao aporte instrumental quanto vocal e temático. O público ainda cabeludo daqueles dias ouvia bastante e crianças como eu também. O Supertramp gravou alguns clássicos do estilo com arrojados solos de saxofone, harmônica e piano. “From now on”, a operística “Fools overture” e essa “School” são na minha opinião o seu melhor, apesar de terem ficado mais conhecidos com “Logical Song” e outras que não gosto tanto. “School” é uma joia musical e, com esse vídeo, entra numa combustão espontânea, parece, como um fogo-fátuo.
No fim do ano passado, numa viagem que eu fazia com a família e no mesmo período que desejava terminar de escrever o “Trapézio” (que inicialmente pensei em chamar de “Fica na tua”, como na canção de Vitor Ramil, mas mudei por pressão doméstica), mostrei a minha filha a música e ela ficou meio espantada com os andamentos e principalmente o vigor musical da gravação. “Que loucura é essa aí?”, lembro-me dela perguntando no banco de trás do carro. E de responder-lhe “Isso aí? Isso era o que eu mais ouvia quando tinha a tua idade. Todo mundo ouvia..” Aquilo ali era, na verdade, apenas uma pequena amostra desse vigor do começo dos anos 80, uma década enérgica ao extremo, na qual se emendava Supertamp no Queen e numa discografia que tinha a missão de prorrogar o tempo regulamentar de Beatles e Led Zeppelin sem imaginar que logo tudo viria abaixo sob o som dos helicópteros de “The Wall”, sepultando as ruínas do sonho hippie e fazendo emergir uma geração alucinada em todo o mundo. No Brasil, a geração que degelou diretamente do permafrost dos anos cinzentos da ditadura militar e logo mais fundamentou a cena rock nacional, ou a consumiu, ou foi por ela consumida.
Naquele verão, eu tinha uma semana mais ou menos para fazer um romance de algumas anotações, um esboço temporal e uma coleção de tipos humanos contemporâneos daquela época que vivi fazendo a transição de quem vinha do interior para a capital e a da adolescência. Um movimento talvez definitivo de toda uma época que se globalizou por interesse próprio e, ao menos simbolicamente, no Brasil recolocou a capital do país de volta no Rio de Janeiro, sob a monarquia da Rede Globo de televisão e sua indústria monumental de entretenimento, informação, dirigismo intelectual e, principalmente, moral.
Nem lá no cafundó do interior as coisas chegavam com a vagarosidade de antes. A tevê naqueles dias enrolou tempo e espaço numa narrativa uniforme, misturando numa mesma massa tradição e futuro, repressão e liberdade. O momento político que culminaria numa democracia parcelada, com eleições indiretas, tinha o substrato de um derretimento total de uma história insustentável. E a entrada da música estrangeira no Brasil, a explosão do pop e uma voracidade consumista sem precedentes, talvez semelhante a experimentada pelos boomers nos anos 50, e o cinema, e as grifes e a retomada norte-americana do fim-de-século nas mãos de criaturas que desconfiavam da seriedade das intenções liberais do próprio país. O país que explodira meio mundo voltava a vender o seu modo de vida com toda a força, como uma locomotiva desembestada, levando por tudo gerações distintas, países periféricos, culturas locais, tudo.
Essa é uma história que ainda não terminou, mas realizou muita coisa também. No rastro dessa locomotiva, pérolas de uma contracultura que também não se conclui nunca, que também é seu combustível e seus restos são carne humana, violência e um modo de vida meio que desesperado, de uma época controlada por ansiolíticos ou ainda mantida em drogas ilegais, mas só de fachada ilegais.
Os anos 80 foram anos muito drogados. Acho que bem mais que os 90, meio diluídos num novo sonho americano de prosperidade yuppie. Nos 80 havia uma certa panela de pressão. “School”, do Supertramp, mostra um pouco desse estado de espirito sedento. E “The Wall” não é senão é a culminação desse espólio capitalista ressurgente, irrefreável, trucidando a subjetividade de pessoas sem condições de sustentar nos braços e mente a potência exigida pela “máquina”.
Quando pesquisava sobre o romance e anotava minhas coisas, busquei livros que tratassem da história dessa década no Brasil e fora daqui. Há um certo vácuo, eu diria. Talvez uma ressaca da qual ainda não nos recuperamos completamente e um saldo que ainda não sabemos muito bem o que fazer dele. É a minha sensação. Em alguns momentos daquela semana que precisava encerrar essa história toda achei que não conseguiria. Uma noite, depois de dormir não mais que duas horas, retomei de onde eu tinha parado antes de recomeçar e então fui até o fim. Parecia estar sob o efeito de um poderoso estimulante, mas me bastava ouvir a harmônica de “School”, como um chamado do fundo do tempo (e dos pátios escolares) e a energia voltava. Se eu tivesse crescido nos 90 teria sido bem mais difícil. Ali a pressão já havia cedido bastante. E, em seu lugar, a depressão. Mas aí é outra história bem diferente e nem me sinto capaz para tentar escrevê-la. Talvez ainda não..