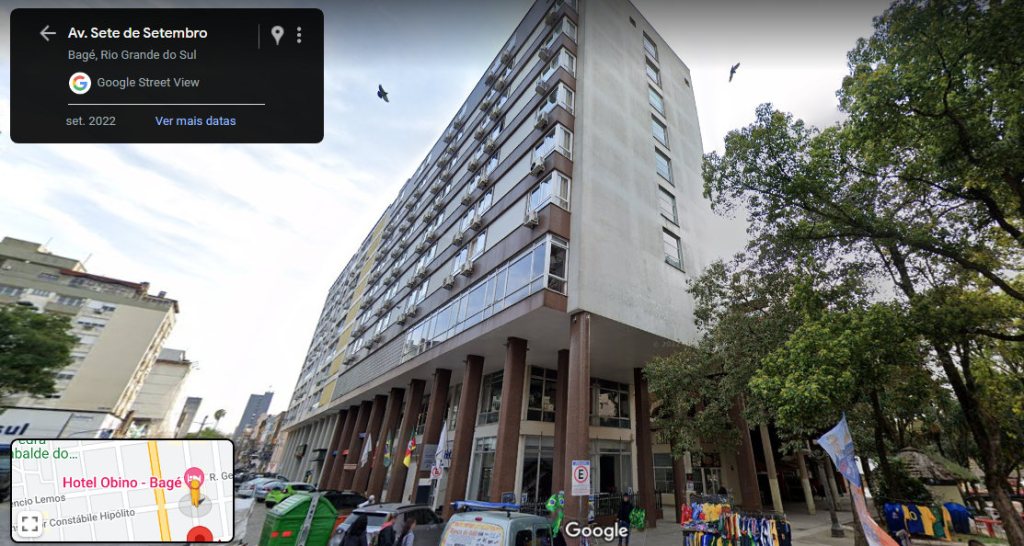Para a Isabel
For every little lie you tell so you can hide
Will grow inside your chest
Your heart will need to rest
So come into my arms
November Ultra
Não se aconselha a compaixão. Isto é o que se deveria dizer em muitos lugares onde ela havia trabalhado. É que as pessoas primeiro olhavam seus braços e pensavam que ela seria um bom guindaste para os velhos que já não levantam mais pelas próprias pernas. Um guindaste humano e de bom coração que, ao tempo em que erguesse pelas axilas alguém sem esperança em sobreviver, sussurraria em seus ouvidos palavras cândidas, inocentes, como se extraídas de uma canção de ninar. Por isso eu digo sem piscar: compaixão ela não tinha. Na verdade, era outra coisa; algo que não entendi por completo, pois também não houve tempo o bastante.
Para quantos não tenham força para viver, deve haver tantos que os ajudem a suportar, a mãe lhe disse ainda uma criança, a única menina entre sete irmãos nascidos em escadinha, ela a mais velha, e que se tornaria responsável pelos demais se a mãe morresse (e ela morreu de droga e bebida, quer dizer, de uma morte quase planejada). Alguém precisa ser o guindaste, a mãe avisou e antes que entendesse outras coisas elementares de uma vida serviu-lhe a lição.
O que a distraiu nestes anos foram os gatos que a mãe havia deixado que se acomodassem em seu pátio. Ela gostava de ficar olhando os animais como se aquilo fosse uma selva particular, um mundo de natureza, ordenado pela natureza e onde, por consequência, apenas aconteciam as coisas que desejava a natureza. Mas um a um os gatos partiram ou morreram e coube a ela enterrá-los junto aos arbustos que foram tomando conta do lugar. Isso tudo uma ordem da natureza, exceto ela, que desde então adquiriu aos olhos dos outros o hábito dos anjos.
“Eu vou comprar comida, algo que você nos prepare para enfrentar o frio. Não demoro…”, o pai disse na última vez em que o viu. Mais tarde, atrás dele foram os três filhos mais velhos, numa tentativa de reencontro que ela nunca soube se malfadada ou bem sucedida. Às vezes, ela estava encostada na porta da enfermaria, fumando, e me parecia que imaginava ainda que os quatros se encontraram, é claro, e agora vivem da pesca numa cidade portuária e nem é preciso que retornem, mas, se um dia retornarem, ela terá arranjado algo do que comeriam todos, como deve ser numa família.
Nos olhos dos seus irmãos nunca houve gratidão e nem ela esperou por isso. “Vive-se”, é o que ela dizia quando os vizinhos indagavam se precisava de algo e ela recusava, dizendo que com o seu trabalho eles tinham o suficiente.
Eu sinto tristeza que nas cidades, todas elas, nunca tenha um monumento a criaturas assim. Imagino que ela recusaria como recusou um pedido de noivado de um sujeito que disse por ela estar apaixonado, mas ela não o entendeu, não entendeu do que se tratava. Menos mal que uma prima entendeu as tentativas dele, subsequentes as que lhe dedicara. E ela entendeu ainda mais porque, de fato, não havia nada disso de paixão. Sabe-se lá o que havia..
Hoje desde cedo me pareceu que seria um dia estranho. Avisaram que ela não viria almoçar conosco, no refeitório. Foi deslocada para outro andar, outro setor, eu imagino. Não quero saber. Para onde ela tiver ido estará um lugar melhor, isso é que é. Haverá risos de histórias angelicais, sem qualquer maldade ou frivolidade, canções cantadas sem pronúncia, em boca chiusa, e seus músculos trabalhando como a mãe ensinou-a a fazer. Haverá alguém sendo ajudado ou então não haverá realmente mais nada. Em dezembro costumam dar folga aos funcionários, é isso que deve ser. A maldita está de folga e eu aqui, sem quem me conte o desfecho de uma história qualquer, dessas que rolam pelos telefones e eu tenho preguiça de ler até ao final. Irá comer os caramelos todos sozinha, não guardará ao menos um para mim. E é assim mesmo que deve ser. Não se aconselha a compaixão.